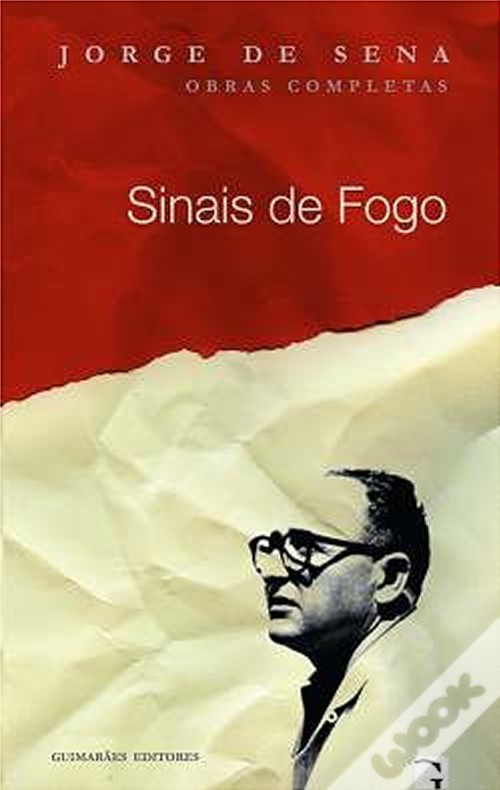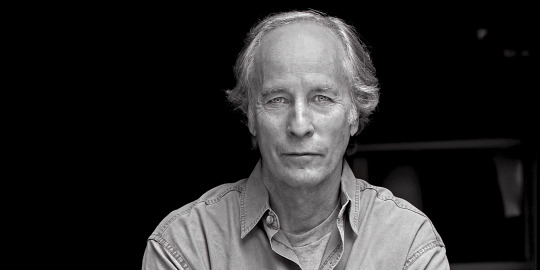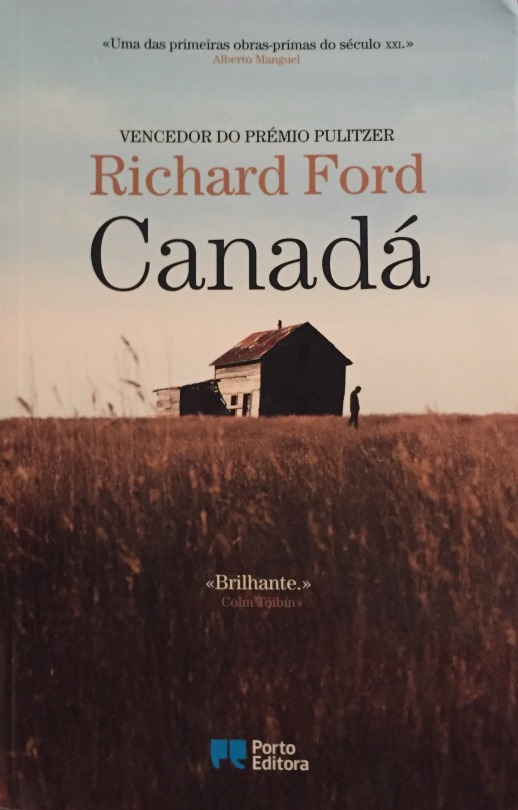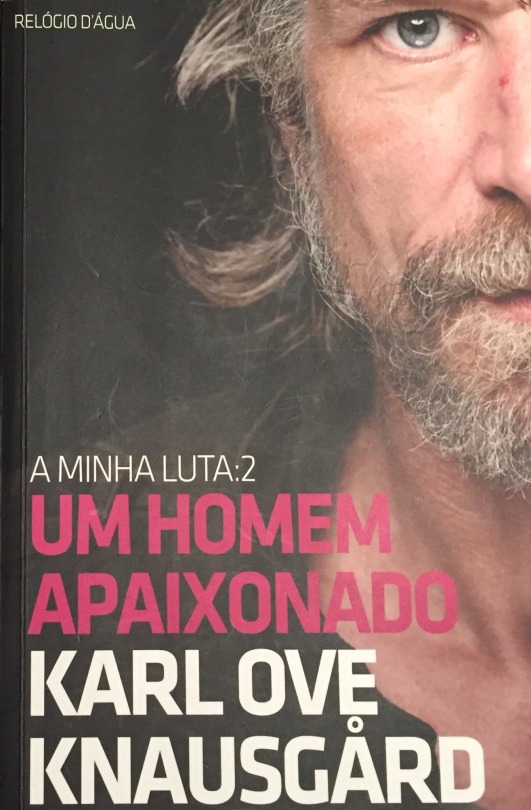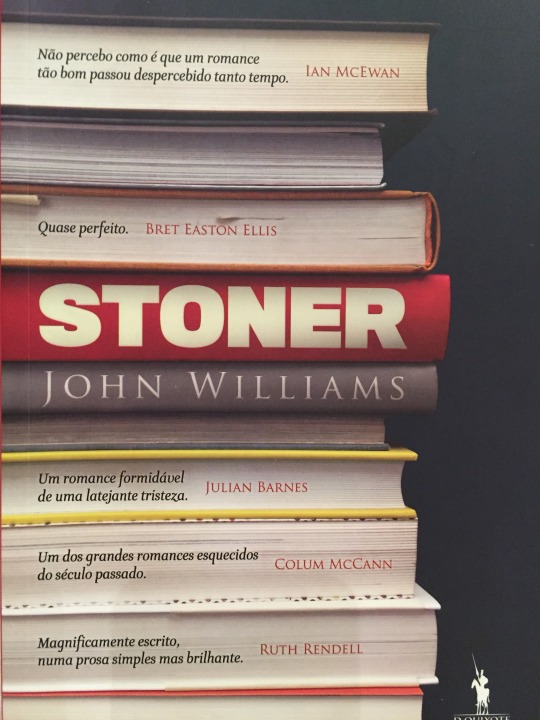Quando, a meio da década de 1970, Eleanor Bloom, crítica literária e editora do suplemento cultural do prestigiado jornal londrino The Globe, foi mãe pela primeira vez, numa sala de partos do Hospital de Santo António, Eleanor Bloom morreu, de causas naturais, considerando o meu nascimento uma causa natural.
Um cadáver avariado, avariado como todos os cadáveres, ficou à guarda da embaixada de Inglaterra no Porto. George Steiner, por essa altura, em 1974, ao fim de alguns anos como escritor avulso, trabalhador autónomo, freelancer numa das suas mil línguas mãe, aceitou o cargo de professor de Inglês e de Literatura Comparada na Universidade de Genebra.
George Steiner nada tem a ver com esta história, por casualidade nunca as recensões de Eleanor Bloom se aproximaram do seu nome, nem eu alguma vez o conheci pessoalmente, mas certa ocasião numa livraria em Lisboa folheei My Unwritten Books, há não muito tempo, e o livro fora escrito com as seguintes palavras na primeira linha: "When, in the late 1970s, Professor Frank Kermode, scholar and critic...". A primeira linha dos livros que George Steiner nunca escreveu calça o mesmo número que a primeira linha do livro que decidi escrever calça, e por isso, desassombrado, calcei-me com os sapatos do George Steiner, as minhas mais sinceras desculpas, em primeiro lugar ao próprio e depois a todos aqueles que estiverem a seguir os meus passos na arte da pequena delinquência e da rectificação das memórias deste que sou eu, uma espécie de ladrão de fruta, e, como ele, a avesso a monoglotas.
Não me comecem já a tratar por senhor Bloom. A minha mãe sempre prezou a sua independência, vim a saber mais tarde, e o casamento foi coisa que nunca entrou em sua casa, um modesto apartamento, celibatário como eu, na Londres central, do qual ainda faço parte ao fim deste tempo todo, estou a limpar a sola dos sapatos no velho capacho, este ritual antecipa a introdução na chave da fechadura, tenho como toda a gente tem uma vastíssima gama de repetição de gestos absolutamente banais, mas sem os quais nada feito, neste caso, se a minha propensão fosse uma propensão sobranceira, a minha propensão ficaria à porta, com o nariz perto da porta, à espera do mordomo. Assim, como o comum mortal, desenrasco-me sozinho, estou cá dentro, pouso o sobretudo no cabide sem ajuda de terceiros, e as chaves de casa, e descalço os sapatos, os meus, deixei os sapatos metafóricos do George Steiner no fim do primeiro parágrafo, e, narrador indiferente da minha autobiografia, puxo uma cadeira, abro o computador, ligo o computador, peço ajuda ao fumo de um cigarro, e começo a escrevê-la com a minha memória, que por acaso ia a passar por uma livraria de Lisboa e pegou no livro de um filósofo.George Steiner nada tem a ver com esta história, por casualidade nunca as recensões de Eleanor Bloom se aproximaram do seu nome, nem eu alguma vez o conheci pessoalmente, mas certa ocasião numa livraria em Lisboa folheei My Unwritten Books, há não muito tempo, e o livro fora escrito com as seguintes palavras na primeira linha: "When, in the late 1970s, Professor Frank Kermode, scholar and critic...". A primeira linha dos livros que George Steiner nunca escreveu calça o mesmo número que a primeira linha do livro que decidi escrever calça, e por isso, desassombrado, calcei-me com os sapatos do George Steiner, as minhas mais sinceras desculpas, em primeiro lugar ao próprio e depois a todos aqueles que estiverem a seguir os meus passos na arte da pequena delinquência e da rectificação das memórias deste que sou eu, uma espécie de ladrão de fruta, e, como ele, a avesso a monoglotas.
Sinto-me lançado e tenho receio de pousar as mãos, levantar as pernas, ligar os passos do afastamento da minha secretária, levar um cigarro à varanda, fumá-lo, lembrar-me por exemplo de telefonar à Marianne Holmes, telefonar, convidá-la para passar cá por casa, ela aceitar, abrir-lhe a porta, e as costas do vestido, cair com ela na cama por baixo dela, estremecer, ultrapassar a ejaculação precoce pela direita, viajar mais alguns minutos na sua predisposição, quem sabe uma hora, saber sair de cena como um cavalheiro, e voltar tardiamente, e em roupa de cama, um pijama acetinado garboso das suas listas outonais, acompanhado por um robe da mesma estação, à cadeira, ao tampo da secretária, ao computador, ao texto, homem voltado a repetir, como se estivesse a deixar o próprio lastro falar sozinho.
Eleanor Bloom, os restos mortais de Eleanor Bloom, numa câmara frigorífica para cadáveres, construída totalmente em aço inoxidável, qualidade AISI 304-18, com reforços técnicos para assegurar a rigidez necessária. E eu no berçário do serviço de neonatologia do Hospital de Vila Nova de Gaia. Julgo que em 1974 neonatologia se dizia maternidade. A mim sempre me pareceu ter mais sentido dizer neonatologia, até porque não tenho mãe precisamente desde essa altura.
Vamos prosseguir com a viagem da mãe morta. Antes de falir estrepitosamente no dia natal de 1987, o jornal The Globe, lembrar-se-ão as pessoas mais usadas do que eu pelo tempo, da vida em cheio daquela maravilhosa coleção de páginas da nossa cultura e da cultura internacional. A secção ficara menos órfã do que eu com a morte da minha mãe. Sandra Bert, sua amiga de infância, e editora-adjunta, mantivera o padrão de qualidade, podiam ter sido irmãs gémeas, e foi assim que eu, à semelhança do Globe, me mantive à tona de água sem qualquer tipo de problema até 1987, ano em que Sandra Bert morreu, no princípio de março, criado por ela como se fosse um filho, um rapaz bem encadernado. Ligar o dia da falência do Globe, 25 de dezembro, ao significado que o dia tem em diversas partituras geográficas, seria, da minha parte, estar a calçar sapatos metafísicos, que para além de não fazerem o meu género, me ficam apertados. E aleijam os pés.
Ponho-me então descalço na travessia da minha adolescência, sem avós de parte a parte, em casa do meu pai, homem linguisticamente versátil , mas coleccionador de situações de desemprego, ninguém o suportava e ele também não suportava ninguém, incluía-me nesse grupo, não o mandava dizer por ninguém, foi por isso sem surpresa que o acompanhei a casa de uma tia dele e fiquei, depositado.
A rejeição não me fez mal. Quando dei por mim, estava desaparecido do medo.
Ponho-me então descalço na travessia da minha adolescência, sem avós de parte a parte, em casa do meu pai, homem linguisticamente versátil , mas coleccionador de situações de desemprego, ninguém o suportava e ele também não suportava ninguém, incluía-me nesse grupo, não o mandava dizer por ninguém, foi por isso sem surpresa que o acompanhei a casa de uma tia dele e fiquei, depositado.
A rejeição não me fez mal. Quando dei por mim, estava desaparecido do medo.
Eu sabia. A verdade é que no fundo eu sabia, digo à minha consciência, ou então é ela quem mo diz a mim, a vascolejar no remorso, por ter começado a guiar um livro sem mãos ao fim da primeira hora de viagem pela beira do particípio passado, forma arriscada de conduzir a incerteza, conduzir a incerteza, que não é, de todo, como andar de bicicleta. Nas primeiras gotículas de conclusão, antes de emergir das profundezas de Marianne Holmes, convenci-me em definitivo do facto de ter entrado num erro depilado, muito elogiado pelas minhas papilas gustativas, e não só, pensara nas minhas mãos, no quanto se deveriam manter trabalhadoras, a podar os ramos da minha existência, e a trazê-la de volta em forma de palavra escrita, mas a verdade é que caí da árvore, se é que me entendem, se não entendem, utilizo aqui a árvore para referir o momento criativo onde me tinha metido com a história de Eleanor Bloom, e agora não sei se consigo voltar a subir, não sei se consigo voltar a subir, talvez tenha ferido a singularidade da mensagem, ao abandonar a frente da minha batalha, com estas duas pernas de fugir da responsabilidade.
O medo. Onde é que eu ia. A minha capacidade de concentração tem pouca bateria. Desliga-se com relativa facilidade. Ou faço mau contacto comigo mesmo. Devia ter colocado um ponto de interrogação quando ainda há pouco escrevi onde é que eu ia. Ia regressar exactamente ao medo, depois de ter feito penitência interior, desde o lado esquerdo da cama até ao corredor, do corredor até à sala, passeando alguma demora pelos quadros de um pintor húngaro muito famoso, com um cigarro sempre pronto a aparecer, e a aparecer, na boca da sua cena, a minha boca, o meu cigarro actor convidado para a minha penitência interior, um bom actor, um bom cigarro, a minha capacidade de concentração muito parecida com as aguarelas da Hungria, trouxe-as de Budapeste, a diluir-se, a caminhar nu pela escuridão da casa, pela escuridão que a noite trouxera cá a casa, a caminhar nu e desprovido de ideias, cada vez mais perto da cadeira, talvez não fosse má ideia uma corda para me amarrar à cadeira, e dar um nó nas minhas prioridades, antes que procrastinação se ponha a dançar em roupa interior e me seduza como só ela o sabe fazer. Espero que uma boa noite de sono me consiga resolver. Marianne Holmes ocupa um metro quadrado de sono na minha cama. Apetece-me ir ter com a posição fetal dela. Moldo-me.
Não há motivo para alarme. A melhor maneira de escrever é continuar a existir. Quem mo disse foi o meu melhor amigo, o tempo.
Procuro sangrar um homem sob a forma de tinta. O meu reflexo no espelho da casa de banho esteve a lavar-se no duche e a escovar os dentes, esqueceu a escova de dentes no parapeito da janela, só vai dar conta depois do jantar, penteia o cabelo com as mãos e cera mate para cabelo, o reflexo da minha personalidade volta as costas todos os dias a diversas circunstâncias, não está para se aborrecer com ninguém, nem comigo, e volta às costas ao espelho, conduz-me até à saída de casa, levanta-me o carapuço do casaco, um abrigo, conduz as minhas mãos aos bolsos das calças, encaminha-me pelo passeio, percorro esta conjuntura fria e populosa de Londres, observo postos móveis de silêncio em todo o lado, pessoas, e mais pessoas, sopra de leste uma vaga de músicos de rua, o verão está a acabar de cantar porque é setembro a nossa casa este mês, apetece-me chorar, só não começo a chover por vergonha, nunca tinha tido vergonha de naufragar em público, pergunto-me se ao chorar as lágrimas quando caem do meu corpo deixam ficar sangue em pó nos corredores, investigo as veias mais salientes dos pulsos, na minha pele insinua-se a textura do troco da máquinas de tabaco, atiro as moedas, acerto no saco de um contrabaixo, passei por isto e continuei a andar.
Pela segunda volta ao quarteirão o entristecimento cimentara sua entristecida magia noutro lugar que não eu. Pude experimentar a sensação de um sorriso ténue, sensação com dores de parto, é certo, mas com registo civil e, por conseguinte, natalidade, nasceu felicidade entre as margens do meu rosto, sorri, minha casa estava ali à mão outra vez na volta da caminhada, minha porta, meu minuto de solo londrino, e num minuto tudo pode acontecer, entre paredes num relógio ou no serviço de relojoaria cerebral com que o habitante se vai arranjando diariamente.
Eleanor Bloom percorrera o sétimo mês de gravidez no estrangeiro. A viagem a Portugal tinha os dias contados. Foram atempadamente compradas passagens de regresso desde o Porto, fim do circuito pelo corredor mediterrânico, com paragens em Atenas, na Sicília, em Nice, Barcelona e por fim no Porto, podia considerar-se a única etapa fora de mão, mas que cumpria na exacta medida o propósito de Eleanor Bloom, em trânsito pela escrita de mulheres subnutridas ao nível do reconhecimento público pelo simples facto de serem mulheres, visto que a excelência das suas obras, vertida para o interior de sociedades másculas, definhava nessa pré-história prosaica e o mundo, embora não parecesse, abandonara a caverna há milhares de anos, mas sentia uma dificuldade superlativa, e que era a dificuldade de desabitar a caverna emocional onde, pelos vistos, a densidade populacional, mesmo tendo diminuído, não tinha diminuído o suficiente, digamos que a evolução da espécie atingira os mínimos para se qualificar para a dignidade humana e perdera ambição de chegar mais longe, e de chegar melhor. Eleanor Bloom agendou um único encontro para o Porto, encontro esse que nunca chegou a acontecer por razões óbvias e por um par de horas. Não me recordo com clareza do nome daquele antigo hotel da rua de Santa Catarina, foi-mo referido inúmeras vezes ao longo dos anos, sem que o tenha conseguido trancar na memória. O tal hotel deveria ter recebido nas duas poltronas de veludo turquesa voltadas para o jardim interior Eleanor Bloom e Berenice Agustín, prolixa narradora portuguesa, autora do inoportuno livro "Poente", casada com um argentino, bastante mais velho do que ela, e com o seu apelido, Agustín.
À medida que me sento a escrever num teclado novo vai terminando um fim-de-semana que passou por mim a galope e a cavalo nas minhas costas, a minha coluna de 43 anos ainda pode com ele, mas fica a precisar de mais um fim-de-semana para repousar sobretudo a cabeça e nem tanto omoplatas e subordinadas peças da minha falível estrutura óssea.
Comprei numa das minhas rondas pela existência, a pé, um teclado físico, a fim de complementar o iPad mini, e após uma brevelonga indefinição decidi ficar com ele, apesar dele falhar gravemente na obrigação de acentuar as palavras, será maior o defeito dele do que o meu singelo conhecimento da informática, creio, por isso não excluo vir a pedir ajuda a um funcionário na loja onde o comprei, uma loja situado no piso zero do NewMarketShopping, ping, na adaptação às minúsculas teclas tinha escrito pig no final da palavra shopping, em vez de ping.
Percorri um novo parágrafo nas ultimas hora de vida de Eleanor Bloom. Consigo viver com as falhas de acentuação do teclado. As minhas lacunas intelectuais serão bem maiores, algo que procuro esbater praticando insistência.
Um português sentado no banco do condutor de um carro manufacturado em Inglaterra em 1968 mudou o rumo dos acontecimentos do estudo da até então literatura insignificante. O transporte de passageiros por intermédio de marcação telefónica prévia atropelou três pessoas lá em baixo, na rua, diante do castelo da Foz, e do hotel Boa-Vista. A mãe, quem sabe, afaga o ventre onde eu espero pela minha vez, e percorre, sem o saber os derradeiros passos da sua vida. Viu, a partir da janela, a forma desumana como o táxi perdeu a noção da estrada e deslizou para cima de três alunos de escola estrangeira privada, finalistas, o barulho do acidente, tão horrível como o filme do acidente, percorreu várias ruas em torno daquele local, em poucos minutos dezenas de testemunhas do seu ruído apareceram por baixo da janela do segundo andar do hotel. Por essa altura Eleanor Bloom, tomada por um impulso sofrido, fazia parte do chão do quarto, vítima de morte fulminante, parecida com a passagem do tempo, exactamente o fim da passagem do tempo, como se Deus lhe tivesse vestido um ponto final em vez de uma vírgula naquela preciso momento.
Assim terminou a estadia de Eleanor Bloom em Portugal. O protocolo internacional viria buscá-la ao fim de dois à morgue do Hospital de Santo António. Não havia nada no lado de dentro da fronteira familiar, nenhum eco de parentesco. Não tinha pai, mãe, irmãos. Nem mesmo um breve marido. Apenas o meu pai, doutorado em ausência, e como tal, figurante na história do corpo de Eleanor Bloom, por decisão mútua, o suficiente para eu ter acontecido, a partir dessa criatura do meu profundo desconhecimento e do meu mais aprofundado grau de parentesco, alguém que saíra de Helsingborg à procura do seus sonhos em Londres, como se uma cidade fosse suceder a alguém enquanto dorme.
Comprei numa das minhas rondas pela existência, a pé, um teclado físico, a fim de complementar o iPad mini, e após uma brevelonga indefinição decidi ficar com ele, apesar dele falhar gravemente na obrigação de acentuar as palavras, será maior o defeito dele do que o meu singelo conhecimento da informática, creio, por isso não excluo vir a pedir ajuda a um funcionário na loja onde o comprei, uma loja situado no piso zero do NewMarketShopping, ping, na adaptação às minúsculas teclas tinha escrito pig no final da palavra shopping, em vez de ping.
Percorri um novo parágrafo nas ultimas hora de vida de Eleanor Bloom. Consigo viver com as falhas de acentuação do teclado. As minhas lacunas intelectuais serão bem maiores, algo que procuro esbater praticando insistência.
Um português sentado no banco do condutor de um carro manufacturado em Inglaterra em 1968 mudou o rumo dos acontecimentos do estudo da até então literatura insignificante. O transporte de passageiros por intermédio de marcação telefónica prévia atropelou três pessoas lá em baixo, na rua, diante do castelo da Foz, e do hotel Boa-Vista. A mãe, quem sabe, afaga o ventre onde eu espero pela minha vez, e percorre, sem o saber os derradeiros passos da sua vida. Viu, a partir da janela, a forma desumana como o táxi perdeu a noção da estrada e deslizou para cima de três alunos de escola estrangeira privada, finalistas, o barulho do acidente, tão horrível como o filme do acidente, percorreu várias ruas em torno daquele local, em poucos minutos dezenas de testemunhas do seu ruído apareceram por baixo da janela do segundo andar do hotel. Por essa altura Eleanor Bloom, tomada por um impulso sofrido, fazia parte do chão do quarto, vítima de morte fulminante, parecida com a passagem do tempo, exactamente o fim da passagem do tempo, como se Deus lhe tivesse vestido um ponto final em vez de uma vírgula naquela preciso momento.
Assim terminou a estadia de Eleanor Bloom em Portugal. O protocolo internacional viria buscá-la ao fim de dois à morgue do Hospital de Santo António. Não havia nada no lado de dentro da fronteira familiar, nenhum eco de parentesco. Não tinha pai, mãe, irmãos. Nem mesmo um breve marido. Apenas o meu pai, doutorado em ausência, e como tal, figurante na história do corpo de Eleanor Bloom, por decisão mútua, o suficiente para eu ter acontecido, a partir dessa criatura do meu profundo desconhecimento e do meu mais aprofundado grau de parentesco, alguém que saíra de Helsingborg à procura do seus sonhos em Londres, como se uma cidade fosse suceder a alguém enquanto dorme.
Depositaram Eleanor Bloom numa urna no seu último dia em Portugal e fecharam a urna durante essa manhã numa sala discreta da Embaixada de Inglaterra, com vista para um muro de pedra. Passaram por lá, está registado no livro de condolências, o argentino Agustín, Berenice Agustín, estes dois foram os primeiros, o director do jornal O Comércio do Porto, a produtora do jornal The Globe, Martina Gatwick, e mais ninguém, a não ser um homem da casa, Melchior Prata, secretário da Embaixada. O senhor embaixador viajara em modo diplomático durante essa semana para parte delicada da geografia política , e, como tal, secreta. Tenho o hábito de regressar a este livro de condolências à noite, quando estou sozinho, nas noites mais desamparadas. Venho cá poucas vezes visitar estes nomes. O livro, tal como a vida, a sua parte amor, a educação, a música e a prosa, veio até mim através da minha querida Sandra Bert.
Sem idade para cauterizar eventos traumáticos, por vezes pergunto-me que sentido há em tudo isto: administrar calor no órgão reprodutor feminino, só mesmo um homem, para levar pelo mesmo caminho por onde leva a urina a apanhar ar o segredo pegajoso da humanidade, virar-se para um cigarro e acendê-lo sem ter dado tempo à natureza para se expandir, comer espaço ao espaço dos outros órgãos, empurra-los a todos do caminho, tirá-los a todos do seu endereço, viverem num aperto e pelo contrário abrir alguém ao meio, sair, chorar, mamar, crescer, andar-falar, aumentar-se, ler, escrever, sentimentos, cabelos, penteados, obsessões, fazer carros, prédios, empresas patrão, empregado, feliz, miserável, eufórico, falando, reconhecido, anónimo, só, multidão, mergulhar no mar, haver um mar para poder mergulhar, e árvores, inventar alimentos, remédios, esfumar a dor, voar, até mesmo voar, construir máquinas de voo e de escrever, máquinas de pensar, filmes, fingir, representar repetições, esvaziar o escroto, em gineceu carnoso, repetir-se, noutra fêmea, conhecer o corpo, gastar o corpo, usar o mesmo corpo todos os dias para ir trabalhar, regressar a casa, pensar na vida, e um dia o corpo deixar de servir, cansar-se de nós, livrar-se de nós e vir alguém para o apanhar com as mãos, o lavar, pentear, perfumar, vestir, a abrir um buraco no chão e guardá-lo debaixo de tudo, tanto trabalho para isto. A rádio nacional escolhe uma música rap para esta hora do dia. O dia aproxima-se do almoço comigo lá dentro. É verdade que o sol continua a visitar Londres. Parei o carro ao lado de um prédio abandonado, quase encostado à sua carcaça. Verifico que não há cemitérios para a construção civil e como a demolição não veio bater a esta porta, longe da sua época de consolidação, as paredes começam a fugir da parede. A Câmara de Londres tem umas fitas brancas e vermelhas para nos avisar dos perigos iminentes. Estacionei o carro perto de uma destas fitas estendidas e fiquei sentado ao volante a pensar na vida. Teve, em tempos, e durante décadas, residência fixa na morada deste edifício abandonado, uma fábrica de vestuário. Estes tipos não têm jipes, consigo ouvir uma voz a passar a pé na estrada, o passeio encontrava-se obstruído pelos fragmentos que já desistiram da fachada. Do outro lado há uma oficina de automóveis da marca Jaguar, pujante. Percebo que me falta uma de duas coisas para continuar este processo de observação: vocabulário ou, pura e simplesmente, vontade. Fico-me pela segunda hipótese, sem dúvida. O meu vocabulário cabe todo numa maleta de viagem. Vocabulário, ter, tenho, de acordo com as minhas necessidades. E se porventura falo em necessidades, falo das funções básicas da linguagem, dentro de parâmetros aceitáveis de dignidade. Falta-me é essa vontade fazer com ele mais algum esboço do espaço no tempo. Recordo: encontro-me numa qualquer rua subalterna de Londres, pois, a massa humana ao construir caminhos também os constrói à sua imagem e semelhança. Chegou-me aos ouvidos, entrelaçada no vento, a voz de uma mulher que bramia passos de tacão alto no asfalto. Roupa de alto gabarito, construção frásica vulgar. Julgo até que o vernáculo se envergonha da montra em que ela o exibe, a partir do dentes, e estamos a falar de uma imaculada dentição. Vociferava. Cabeça inclinada para o chão, voz dirigida aos buracos e às poças de água. A sua pressa desperdiçara tempo que não poderia ter perdido. E além disso os pés ficaram encharcados. Os sapatos, em pele de antílope, destruídos. Escureceu.Apesar de ainda faltarem umas quantas camadas de frio nesta parte do calendário, o dia comporta-se como se fosse inverno espesso, e não é, é apenas mais um que se foi abaixo, algo que também acontece aos homens. Entrei aqui pela primeira vez caminhávamos todos nós para a passagem de ano. Nessa altura sim. Nessa altura fazia sentido mendigar algum conforto nos bolsos dos casacos, apesar de haver luvas no seu lugar, na sua frente de batalha, em poucos dias atravessaríamos dezembro na totalidade, e o ano de 1987.Na cerimónia fúnebre o caixão escuro de Sandra Bert foi para mim uma cápsula do tempo, tomei-o dessa forma, ao vê-lo, fechado, perto do buraco da sepultura numa colina verdejante. Vi esta Inglaterra devolvida a 1974. Como se a morte de Sandra Bert pudesse ser uma peça de teatro baseada na morte de Eleanor Bloom, no seu argumento original. Desta vez eu já podia estar na plateia, com idade para ser espectador de teatro, e de mundo.Era com a inesperada intromissão das temperaturas baixas que a tal mulher vociferava, com isso, mas também paramisturar acendalhas na raiva. Podia bem ser uma raiva miúda e apagar-se por si numa questão de segundos, porque o motivo cingia-se ao aumento da mensalidade do ginásio do filho mais novo. Na qualidade de dono e gerente do ginásio, mandara chamá-la. Chegou mais cedo. Felizmente não me viu deste lado, desiludido comigo por ter deixado acabar os cigarros. Decidi atirar este problema numa fracção de segundos para o dia seguinte, falo, para que o percebam, da senhora com problemas de sapataria. Verifico que ela fica bem no retrovisor e utilizo logo a realidade da rua perpendicular à esquerda como tubo de escape. Conduzo devagar. É quando me arrependo, normalmente em silêncio, sozinho. Mas arrepender-me-ei melhor depois de comprar cigarros e de fumar pelo menos um. O mal conduz-se tão bem como o volante de um automóvel, o mínimo estímulo cerebral conduz o mal e até parece que é a ponta dos dedos a virar sozinha por seu arbítrio, e para o lado, a minha fuga de uma situação de conflito, por menor que ela seja, como ela o era, do tamanho de um vestido preto, a minha preocupação, de não confrontar ninguém, intromete-se, impõe-se.
A minha imaginação é um cavalo cansado. Digo-o sem rodeios. Trago dois velhos discos do Tom Waits no porta-luvas do carro. Escolho o Closing Time. Nunca tinha visto o Tom Waits sóbrio, antes de ter comprado este disco numa estação de metro. Ouvira-o sempre cantar com voz de malte. Na altura devia estar a caminho da universidade, viam-se as cores do outono em toda a parte, por isso devia ser outono. Foi a chuva quem me empurrou para o disco. A escadaria do metro era o único guarda-chuva aberto nas redondezas.
The Heart of Saturday Night, segundo disco de Tom Waits, lançado em 1974, é o título do obituário de Eleanor Bloom, escrito pela sua melhor amiga e jornalista Sandra Bert, co-editora do suplemento cultural do jornal britânico The Globe. O obituário The Heart of Saturday Night, que também foi, no seu dia, editorial de primeira página, rememora a juventude de Eleanor Bloom e transporta-nos pela cidade e pelo campo, um pouco por toda e Inglaterra, pela cor do seu clima, pelo seu monocromático regime estatal, tal como em 1967, é só mudar as décadas, uma questão de substituir o tempo pelo tempo, e estamos aqui, a paisagem é a mesma, algumas pessoas morreram, algumas pessoas nasceram, mas no seu conjunto mantém a mesma forma de pensar, podem é ter vergonha de o dizer e deixam andar todas as novidades em liberdade. O obituário, na íntegra: “THE HEART OF SATURDAY NIGHT”Sabias que a mãe do Tom Waits se chama Alma, perguntou-me Eleanor Bloom,
tanto ela como o pai, Jess, são ambos professores, tínhamos acabado de entrar num comboio para Littlehampton, em poucos minutos teríamos Londres à volta da nossa conversa e logo deixaríamos de ter a cidade à janela, os comboios são mesmo assim, dizia-me Eleanor a ver o campo chegar com o passar do tempo, e eu escutava uma música do Tom Waits cantada com a voz de Eleanor Bloom, cabeças fugiam para o chão da carruagem, cabeças vinham ter connosco e desviavam-se para o fim da primavera lá fora, Eleanor sorria e cantava The Heart of Saturday Night para eu a guardar na memória até ser impossível de esquecer, porque só mais para o fim do ano chegaria o disco do seu novo amigo, fora encontro “patrocinado”, entre as aspas, por Cohen, da indústria musical, um judeu insistente e talentoso, ela tinha ido com ele, a seguir a uma entrevista mais abrangente sobre meio cultural de Los Angeles, beber um copo ao The Troubador e conhecera, mesmo no fim do ano passado, 1973, grávida de três meses, Tom Waits, povoador de palcos e de vazios, ninguém como ele conseguia interromper o silêncio, e uma folha em branco, ele falou do próximo disco, era amigo de Cohen, ela falou do filho, o disco vai chamar-se The Heart of Saturday Night, Eleanor não sabia ainda que nome pôr ao filho, podes chamar-lhe Heart of Saturday Night, não te vou cobrar direitos de autor por isso, e esta foi a última conversa que tive com Eleanor Bloom, era um homem bem humorado, depois ela morreu em Portugal, a minha querida Eleanor Bloom nunca vai poder chamar Heart Of Saturday Night ao Martin, sim, Martin, vai chamar-se Martin, disse-me, quando o comboio se encostou ao cais de Littlehampton e nós já não podíamos mais esperar pela amizade do mar, com que então Martin, disse-lhe, julgo que as dunas já nos cediam passagem, Alma, dizia-me, ao sairmos de Londres, no começo a viagem, alma é uma palavra portuguesa, quer dizer soul, também é sobre o princípio da vida e do pensamento, não sei sabes mas vou prolongar por uns vias a minha estratégia mediterrânica só para conhecer Portugal.
Sandra Bert
A verdade é que eu nasci em março no Porto e o disco conheceu a luz no dia 1 de outubro de 1974.
The Heart of Saturday Night, Tom Waits, Asylum Records, 1974